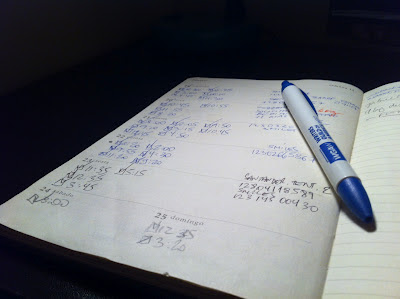Há algumas semanas, após nove temporadas, a série americana “The Office” chegou ao fim.
E daí?
De fato, isso faz pouquíssima diferença na vida da vasta maioria da população humana, mas para este ponto insignificante do universo – eu – isso teve, sim, uma considerável relevância.
Explico.
Comecei a assistir a “The Office” em meados de 2009, quatro anos depois de sua estreia. Cheguei atrasado à festa. Ainda assim, logo estava enturmado e me divertindo com todos os outros.
Quem me apresentou à série foi Logan, meu colega do AFI – o mesmo que se tornaria meu melhor amigo. Não recordo bem como, mas sei que de repente tinha em mãos seus DVDs, com todas as primeiras temporadas.
Foi numa segunda-feira qualquer de setembro, deitado na cama, “The Office” na tela do laptop, que me dei conta de como estava fascinado com as pequenas coisas do meu novo dia-a-dia na ainda desconhecida cidade de Los Angeles. Olhei pra trás e percebi que o dia não havia me trazido nada de extraordinário: aula, supermercado, lavanderia, talvez um almoço com os amigos, e uma noite tranquila com Michael, Pam, Jim, Dwight e companhia.
Ali me dei conta pela primeira vez de que não precisava de muito.
Em dezembro, voltei de férias ao Brasil e “The Office” veio comigo no avião. Aquela viagem pela qual eu esperava tanto durante as primeiras semanas nos EUA já não se fazia tão necessária agora que até lavar a roupa parecia especial.
Angela, Kelly, Toby, Creed me fizeram companhia naquelas semanas no Brasil; me lembravam da boa rotina que me aguardava no retorno aos EUA.
Seis meses depois, Logan e eu já éramos roommates. Assim como a daqueles personagens, minha rotina também mudava com a constante entrada e saída de novas figuras.
Assistir à “The Office” servidos de pizza, pipoca, taquitos ou qualquer que fosse o menu da noite – e com Lebowski latindo aos carros na rua – passou a ser rotineiro na nossa semana. Também passaram a ser rotineiros os jogos de tênis aos domingos, filmes no multiplex ao lado nas noites livres, comida japonesa entre uma aula e outra.
Em 2011, assim como Steve Carell, me despedi daqueles que tinham sido personagens importantes do meu dia-a-dia, da minha história. Voltei ao Brasil e algum tempo se passou até que conseguisse criar uma nova rotina e voltar a acompanhar o dia-a-dia de Oscar, Andy, Erin, Phyllis – agora do meu antigo quarto, já sem pizzas do Papa John’s ou Lebowski correndo aos meus pés.
Mais um ano – e uma temporada – se passaram até que fui morar sozinho. Aos poucos, fui recuperando o fascínio daquela segunda-feira de setembro, em que cozinhar e limpar a casa transformaram-se em exemplo da mais pura felicidade.
Aí veio o último episódio de “The Office”. Era hora de vê-los na tela de forma inédita pela última vez. Não eram apenas personagens de um vídeo de YouTube, que eu conhecera três minutos antes, ou mesmo de um filme, apresentados cem minutos atrás: eram personagens que eu havia acompanhado por quatro anos, que haviam marcado momentos incríveis do meu dia-a-dia; personagens que tinham seus dias documentados como se fossem os mais importantes de suas vidas; personagens criados por pessoas que, assim como eu, um dia tiveram o sonho de dar vida a criaturas que só existiam em suas mentes.
Ao final do episódio, Pam se pergunta: Por que alguém escolheria uma empresa de papelabsolutamente comum para ser o tema de um documentário?
Era como se me perguntasse: Por que alguém escolheria as atividades mais comuns do dia-a-dia como o ponto alto de uma viagem, de uma época, de uma vida?
Na última frase de toda série, ela mesma dá a resposta:
“Existe muita beleza nas coisas mundanas. Não é mais ou menos esse o ponto?”