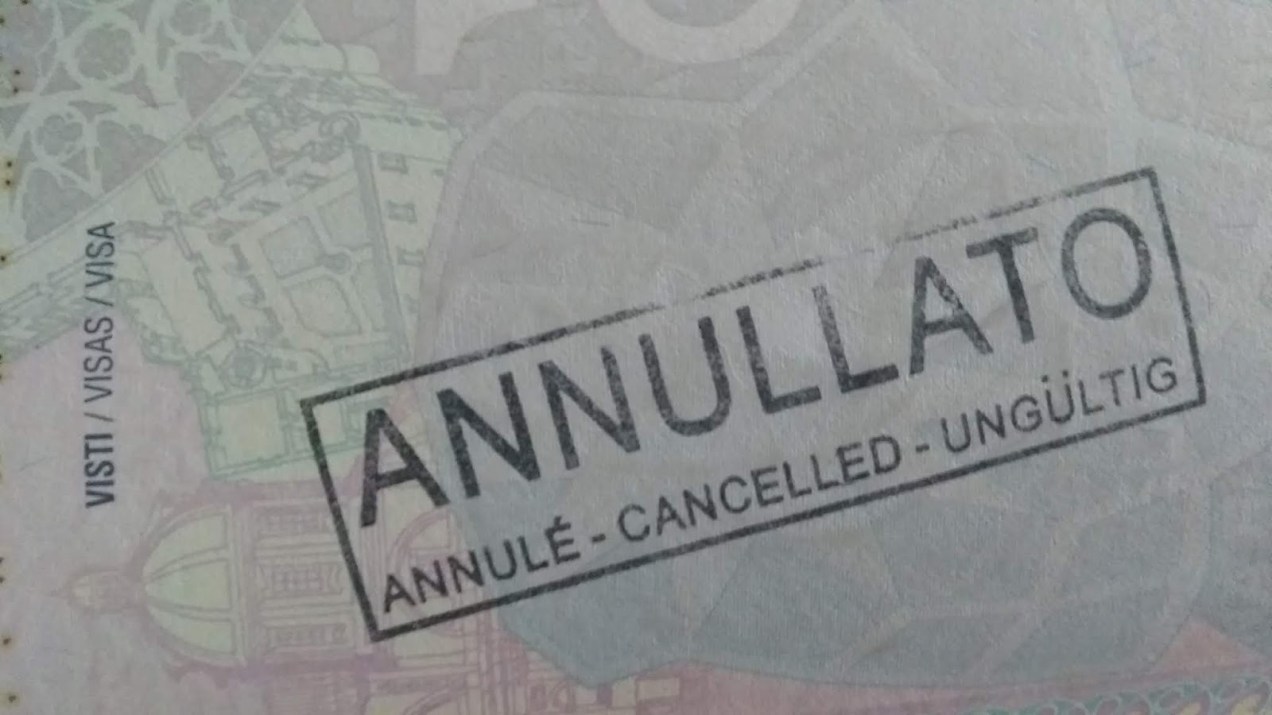Uma das informações mais irrelevantes a meu respeito é o meu signo. Dentre as características aleatoriamente atribuídas a mim pela posição do planeta no dia do meu nascimento estão a indecisão, a busca por harmonia e a apreciação pelo belo. É verdade que não posso refutar nenhum desses atributos, mas convenhamos que dizer que alguém gosta do que é belo não é lá dizer muita coisa, já que dizer o oposto seria no mínimo estranho. “Que lindo esse jogo de toalhas! Jussara vai odiar.”
Talvez tenha sido justamente a busca pelo belo – consciente ou não – que me levou a aceitar o convite para um concerto de música clássica no Hollywood Bowl numa tarde ensolarada de 2010. Foi lá que conheci Paul, um vienense que estudava direção de cinema e que, descobriria depois, havia se formado em história da arte em Paris: uma informação que eu traria à tona nos anos seguintes em qualquer oportunidade de ridicularizá-lo. “Eu sei o suficiente pra parecer que sei muito mais”, dizia ele enquanto me explicava pseudo-pretensiosamente sobre alguma obra de arte moderna. Eventualmente viajamos para o Alasca e, em meio a partidas de xadrez, tentamos chegar a uma definição importante: afinal, o que é arte? “É tudo aquilo que provoca emoção”, concluímos a princípio. Mas o pôr-do-sol à meia noite por trás das montanhas nevadas dizia algo diferente: não dava para negar que aquilo provocava emoção, que aquilo arrebatava os sentidos, mas, não, aquilo não era arte. Era a natureza. Era Deus. Era Algo: mas não era arte. “Arte é tudo aquilo criado pelo Homem que provoca emoção”, foi a nova tentativa. Mas ainda não era isso. “Assassinato não é arte”, refletimos. Então “arte é tudo aquilo criado pelo Homem que provoca emoção, mas que não interfere diretamente na realidade.” Mas como dizer que a arte não interfere na realidade?
Há alguns anos, depois de muita insistência, fui convencido a assistir a uma peça de cinco horas de duração. “Eu sei, eu sei, mas você nem sente passar, eu juro!”, dizia minha irmã, entusiasmada. E ela tinha razão. Tanta razão que quando Os sete afluentes do rio Ota voltou aos palcos anos depois, lá estava eu novamente, sendo arrebatado por movimentos de luz, e som, e dança, e drama, e beleza. E como dizer que aquilo não interferia na realidade? Na minha realidade? Mal sabia eu que em poucos meses o belo deixaria de dar as caras por tanto tempo…
Em 2014 estive em Viena para visitar Paul e tive a chance de explorar a cidade sozinho enquanto ele trabalhava. Sem saber a fundo o que a capital austríaca oferecia em termos culturais, uma das minhas primeiras paradas foi o impronunciável Kunsthistorisches Museum: o museu de história da arte. Foi lá que dei de cara com a obra de arte mais impressionante que vi até hoje. Minha memória me diz que na entrada do museu há um saguão com um altíssimo pé direito e um guichê de cada lado; à frente, há um grande biombo – ou seria uma parede? – que impede que vejamos o que está do outro lado. Comprei meu ingresso e segui pela lateral do biombo, para adentrar o museu. Ali notei que as pessoas paravam por um instante, boquiabertas, observando o que estava à sua frente. Segundos depois, eu seria uma delas: à minha frente estava um lance de escada de mármore branco; no topo, entre lances de escada à esquerda e à direita que levavam ao segundo andar do museu, impunha-se a escultura de Antonio Canova: Teseu vencendo o centauro. Esculpida em mármore branco, a obra retrata Teseu inclinado sobre o centauro, com o joelho esquerdo pressionando o peito da figura mitológica, a mão esquerda apertando seu pescoço e a mão direita com um bastão pronto para atacá-lo. A criatura, metade homem, metade cavalo, tem uma expressão de horror, as patas dobradas sob o torso, a mão esquerda apoiada no chão e os dedos da mão direita fincados no braço de Teseu. Tanta vida num pedaço de pedra… A Europa ainda me tiraria o ar em outras ocasiões – o brilho dourado de O beijo, que parecia saltar da parede preta exclusiva para ele, a diminuta Mona Lisa, escondida atrás de fitas de segurança, vidros blindados e turistas orientais –, mas o impacto da primeira obra do primeiro museu que visitei na Áustria nunca foi superado.
Outro dia a internet me fez cruzar com o antigo professor de teatro da escola onde estudei. Nunca fiz aulas de teatro, mas me lembrei de imediato de uma peça montada por sua turma, a qual assisti no auditório do colégio. Sem ter nem sequer pensado naquela montagem cômica por mais de vinte anos, algumas cenas voltaram com clareza à minha mente. Uma delas, em particular, envolvia uma discussão entre uma personagem e sua irmã mais velha que, irritada, grita: “Puta que pariu, que merda!”, deixando a pequena em choque. É refrescante pensar que a arte fica na gente, que mesmo anos, décadas depois, aquilo que é belo, aquilo que é arte fica guardado em algum lugar da memória, mesmo que a gente não se lembre, para que a gente possa acessar nos momentos de escuridão, em que “puta que pariu, que merda!” não poderia definir melhor o tempo presente.
Paul e eu temos a tradição de falar pelo Skype uma vez ao mês para mantermos nossa amizade viva. No próximo encontro vou dizer a ele que já tenho uma definição: arte é tudo aquilo criado pelo Homem que provoca emoção e torna a realidade suportável.
Foto: Tabuleiro de xadrez em Kachemak Bay, por Paul Schwind.