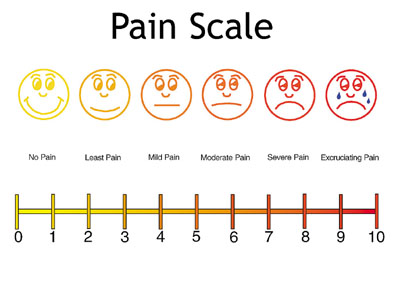Em fevereiro deste ano, deveria ter acontecido em Washington D.C. um seminário da Fulbright sobre Empreendedorismo Social. Como toda neve DO MUNDO resolveu cair naquela cidade precisamente naquela semana, o evento foi adiado para esta semana que passou.
Ainda no areoporto de Los Angeles, começam as aventuras.
Dentro do avião, com o voo atrasado, o jovem piloto dá o primeiro aviso:
– Boa noite, senhores passageiros. Eu tenho uma notícia boa e uma– na verdade, eu tenho uma notícia mais ou menos boa. Nós vamos decolar em cerca de quinze minutos, porque ainda tem uns dez voos na nossa frente – o que é muito estranho, já que eu sempre faço esse voo e isso nunca aconteceu. Assim que nós decolarmos, o ar vai estar um pouco agitado, então eu peço pra que vocês não levantem dos seus assentos. Cerca de uma hora depois, nos vamos novamente enfrentar uma turbulência severa– quer dizer, não severa, mas assim, seria bom se os comissários também permanecessem sentados e com o cinto de segurança afivelado. Obrigado.
Cadê a notícia boa!?
Horas de chocoalhos depois – lá pelas 2h da manhã – um bebê na fileira do lado começa a chorar… e assim permanece pelos próximos 90 minutos, até desembarcarmos em Washington, onde já são 6h30. Dormir, pra quê?
Depois de uma insignifcante cochilada, seguimos para um tour relâmpago pela cidade, no esquema 297 pontos turísticos em 3 horas – Casa Branca, Capitólio etc.
No primeiro jantar (peixe + cheesecake), conhecemos os 60 integrantes do evento – vindos de 47 países diferentes e com as mais diversas especialidades.
– Sou da Holanda, PhD em medicina. Estou procurando a cura para a enxaqueca.
– Eu estudo na Georgia Tech. Estamos desenvolvendo melhores uniformes para astronautas terem maior mobilidade no espaço.
Todos parecem bastante impressionados, mas nada se compara às reações eufóricas após:
– Meu nome é Filipe. Sou do Brasil e estudo roteiro em Hollywood.
Das duas uma: ou eu não entendo Hollywood, ou eles não entendem o mundo.
Conheço também meu roommate pelos próximos dias: um australiano cujas características marcantes são ter 1,91m de altura, ter costeletas de cowboy, estudar oceonografia e roncar absurdamente. Tudo que eu precisava.
No dia seguinte, com o sono totalmente desregulado, começam as palestras. Entre os palestrantes, estão:
“Meu Deus, eles aqui explicando como salvar o mundo e eu me matando pra ficar acordado.”
Depois do almoço (peixe + cheesecake), alguns de nós seguimos para a Howard University – a primeira universidade para negros dos EUA – para algumas horas de trabalho voluntário, catalogando um pesquisa popular sobre a revitalização de uma rua do bairro.
À noite, churrasco – isto é, hamburguer + cachorro quente – na casa de um Fulbrighter da Inglaterra. Entre estudantes da Rússia, Austrália, Ucrânia, Equador, Espanha e Alemanha, surge uma inusitada conversa:
– Então, quando eu fui pra Ucrânia, eu juro que toda balada que eu entrava, por mais normal que parecesse, tinha alguém tirando a roupa – diz o inglês.
– Tem certeza de que não tinham uns letreiros luminosos na entrada? – brinca o espanhol.
– Ah, mas é assim mesmo. Toda balada tem uma área de dança, uma área com sinuca, uma área de restaurante, e uma área de striptease. Sempre tem alguém tirando a roupa – esclarece a ucraniana.
– Gostei! – diz o alemão – Precisamos importar o modelo.
No segundo dia, somos divididos em grupos para uma competição de empreendedorismo social. O objetivo é identificar um problema em uma área – educação, economia, saúde, ambiente – e propor uma solução concreta e sustentável.
Conforme cada um do meu grupo se apresenta, mordo a língua por toda vez que tirei sarro dos americanos por não saberem geografia.
– Olá, meu nome Igor, sou de Benin.
– Eu sou a Shwe, de Burma.
– Meu nome é Patrick. Eu sou da Suazilândia.
Jura que isso são países!?
Num dos raros intervalos do dia, corro até o Starbucks para acessar o google maps e descobrir onde exatamente fica Burkina Faso. Conseguir acessar a internet no Starbucks é tão ou mais difícil do que entender a lógica por trás dos três tamanhos de café oferecidos (“tall”, “grande” e “venti”). Mas sou brasileiro e não desisto nunca!
No último dia, depois do almoço (peixe + cheesecake), seguimos para uma espécie de caça ao tesouro pelo National Mall. Do grupo de seis pessoas, duas não poderiam estar menos interessadas.
– Tem certeza de que não querem ir para um bar?
Derrotadas, eles apenas nos seguem sob o calor de 30 graus, entrando e saindo de museus e bibliotecas atrás de pistas – o que exige, é claro, passagens por equipes de segurança que escaneiam celulares, carteiras, relógios, cintos e afins.
À certa altura, estamos perdidos pelo Museu de História Natural, em meio a fósseis de pássaros, procurando pelos sapatinhos da Dorothy em O Mágico de Oz.
– Vocês estão no museu errado – informa a funcionária. – O Museu de História Americana fica do outro lado da rua.
Termina a gincana. Voltamos para o hotel com alguns minutos para o banho e já temos que seguir para o jantar de despedida.
O menu? Peixe + tortinha de chocolate. Agora sim!
Saem os resultados das gincanas e da competição de empreendedorismo social. Perdemos em tudo. A moderadora tenta animar os derrotados – que, convenhamos, não estão lá muito preocupados.
– Lembrem-se de que todos aqui são vencedores!
Mas ela também diz algo que, de fato, tem efeito:
“Tenham em mente que o papel de vocês como bolsistas Fulbright não é dar o peixe… e nem ensinar a pescar. É mudar a indústria da pesca.”
Dia seguinte, tenho planejado um bate-volta de trem até Baltimore para almoçar com um amigo. Tudo milimetricamente programado para a volta: pega o trem em Baltimore às 2:43, chega em Washington às 3:25, corre até o hotel, pega o Super Shuttle às 3:50 pro aeroporto, voo pra Los Angeles às 6:30.
No discreto trânsito da incrivelmente quente cidade de Baltimore, meu amigo tenta me acalmar.
– Relaxa, os trens sempre atrasam.
– Não, cara! O trem não pode atrasar! Tem que estar tudo no horário!
A alguns metros da estação, pulo do carro e corro até a área de embarque. “Cadê a plataforma E?” Enfim, encontro a plataforma E, escondidinha lá no canto. Alguns passageiros ainda estão sentados. Ufa!
Uma senhora, porém, me alerta: “Senhor, nós estamos esperando o trem das 3:20. O das 2:43 está saindo agora.”
Voo escada abaixo e me deparo com o trem já em movimento, saindo da estação. Junto com o trem, visualizo também a van e o avião partindo sem mim. No desespero, corro em paralelo ao trem e vejo que a porta ainda está aberta. É agora ou nunca!
Segundos depois, estou me equilibrando dentro do trem, procurando um assento, ainda impressionado com a minha manobra. Aí bate a dúvida: será que estou no trem certo?
Sim, estava. Tudo corre bem, e consigo embarcar no avião a tempo – mesmo com a tensão de alerta laranja devido às ameaças de bomba em Nova York, o que torna a vida de qualquer passageiro ligeiramente árabe um inferno.
Sento na minha poltrona, exausto, e aguardo enquanto os outros passageiros lutam para conseguir um espaço no compartimento de bagagens – é isso que dá quando começam a cobrar para despachar bagagens. Quando estamos prestes a decolar, vem o aviso:
– Senhores passageiros, devido ao mau tempo no Tennessee, vamos ter que aguardar uma hora no solo. Por favor, permaneçam em seus assentos. Obrigado pela compreensão.
Crianças choram, mulheres reclamam, homens bufam. Não tenho dúvida: viro pro lado, encosto a cabeça na janela e, enfim, consigo dormir. Pelo menos ninguém ronca.
 É verdade que quando você começa a pagar suas próprias contas, você começa a ver as coisas de um modo diferente. Mas acho que é mais do que isso. É uma questão de consciência. Porque falando de forma realista, esse gasto extra de água e luz, dividido por três, no fim do mês, não chega a ser um rombo financeiro. E é por isso que ninguém dá bola.
É verdade que quando você começa a pagar suas próprias contas, você começa a ver as coisas de um modo diferente. Mas acho que é mais do que isso. É uma questão de consciência. Porque falando de forma realista, esse gasto extra de água e luz, dividido por três, no fim do mês, não chega a ser um rombo financeiro. E é por isso que ninguém dá bola.